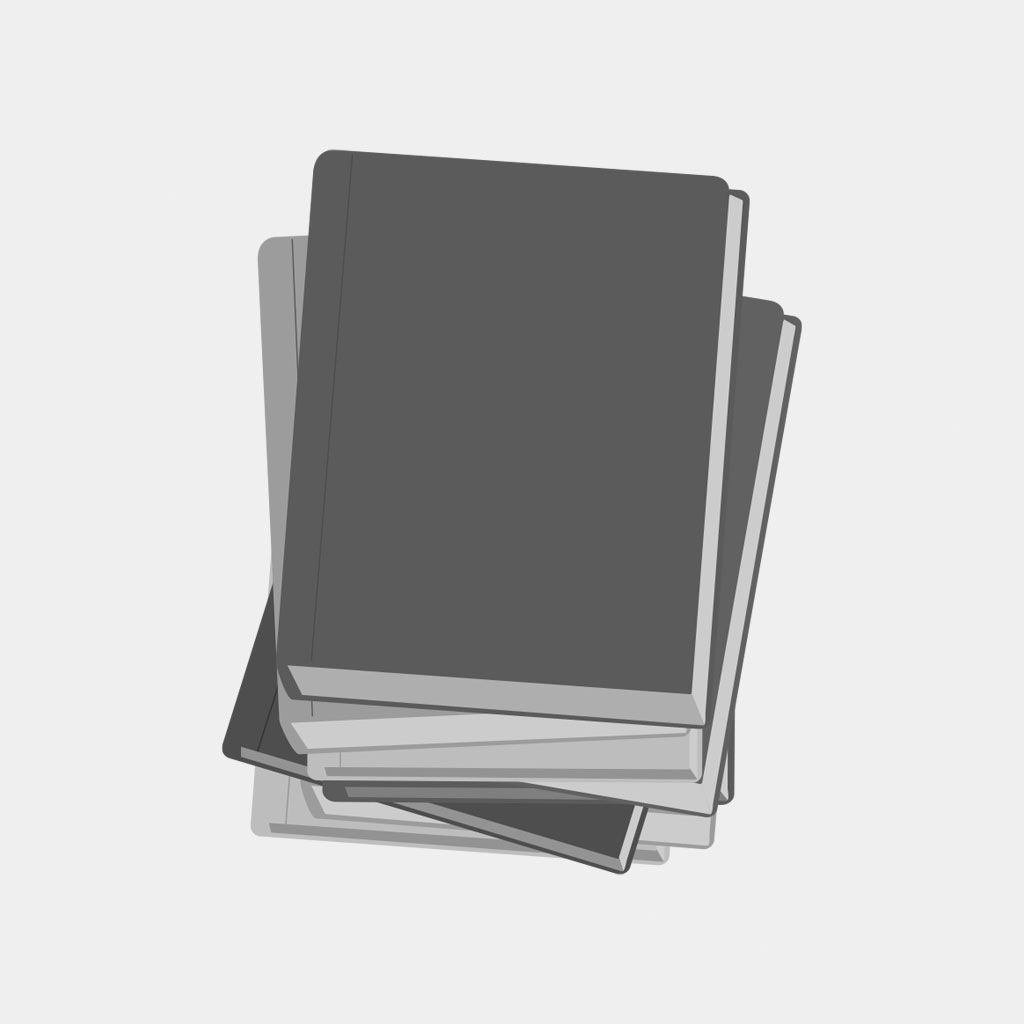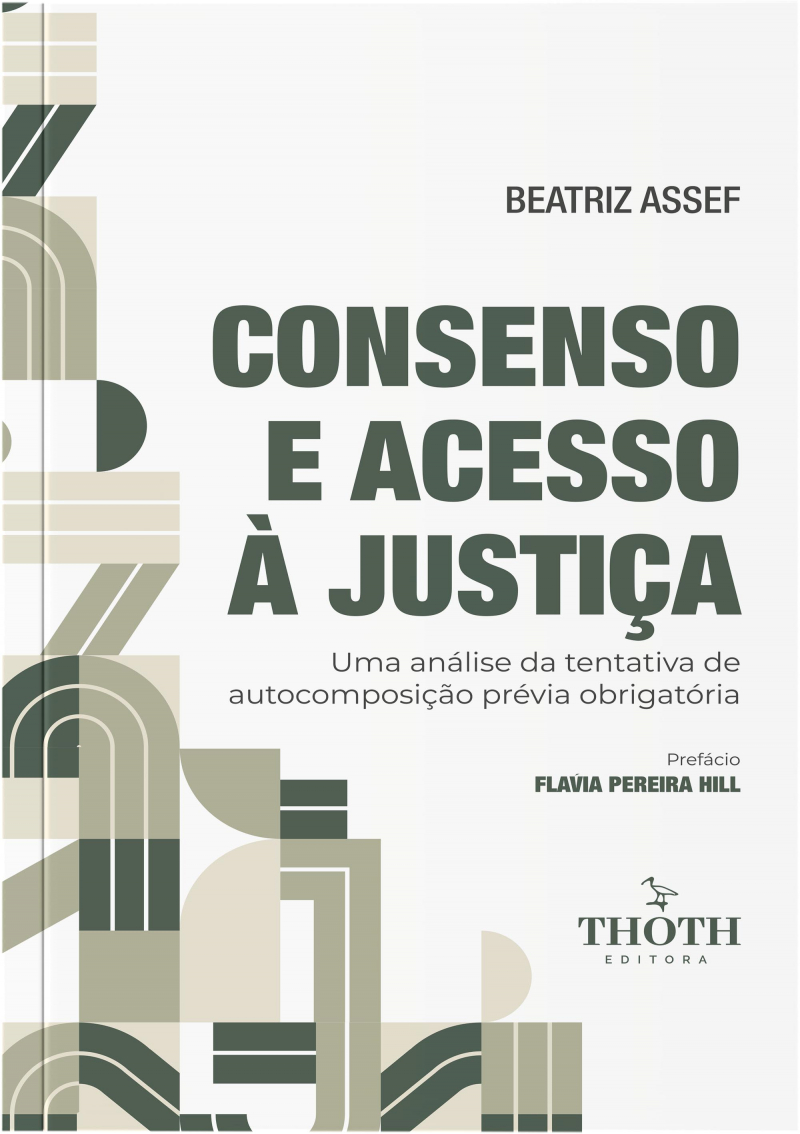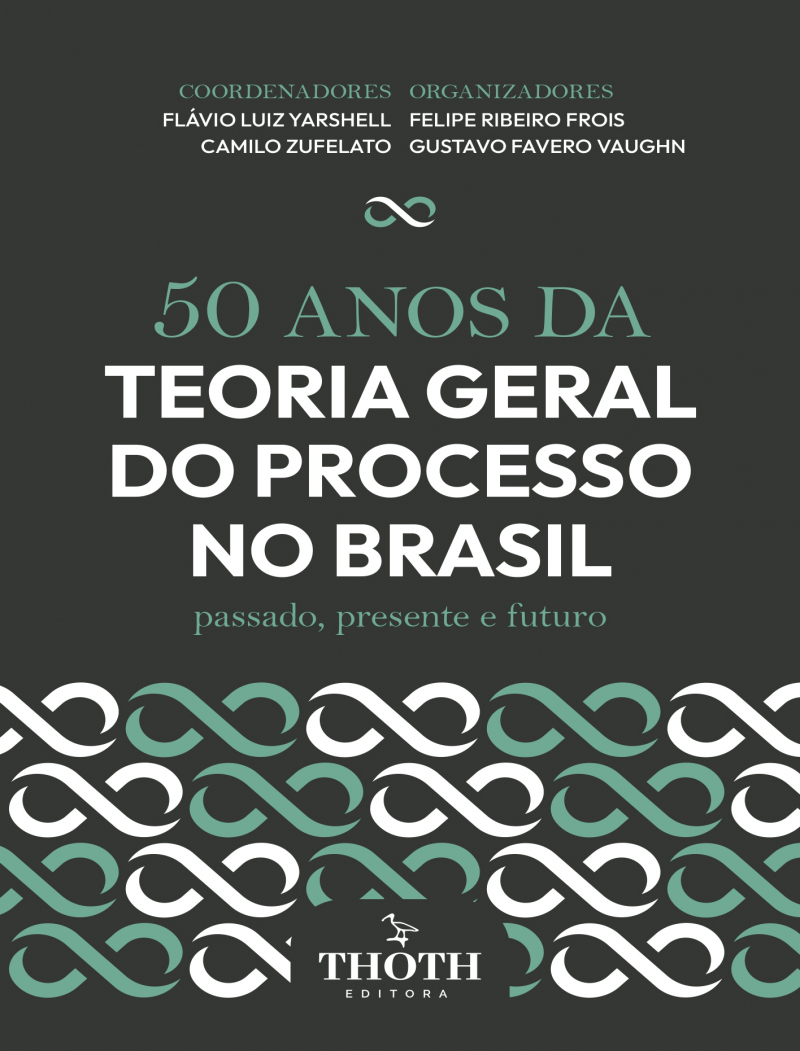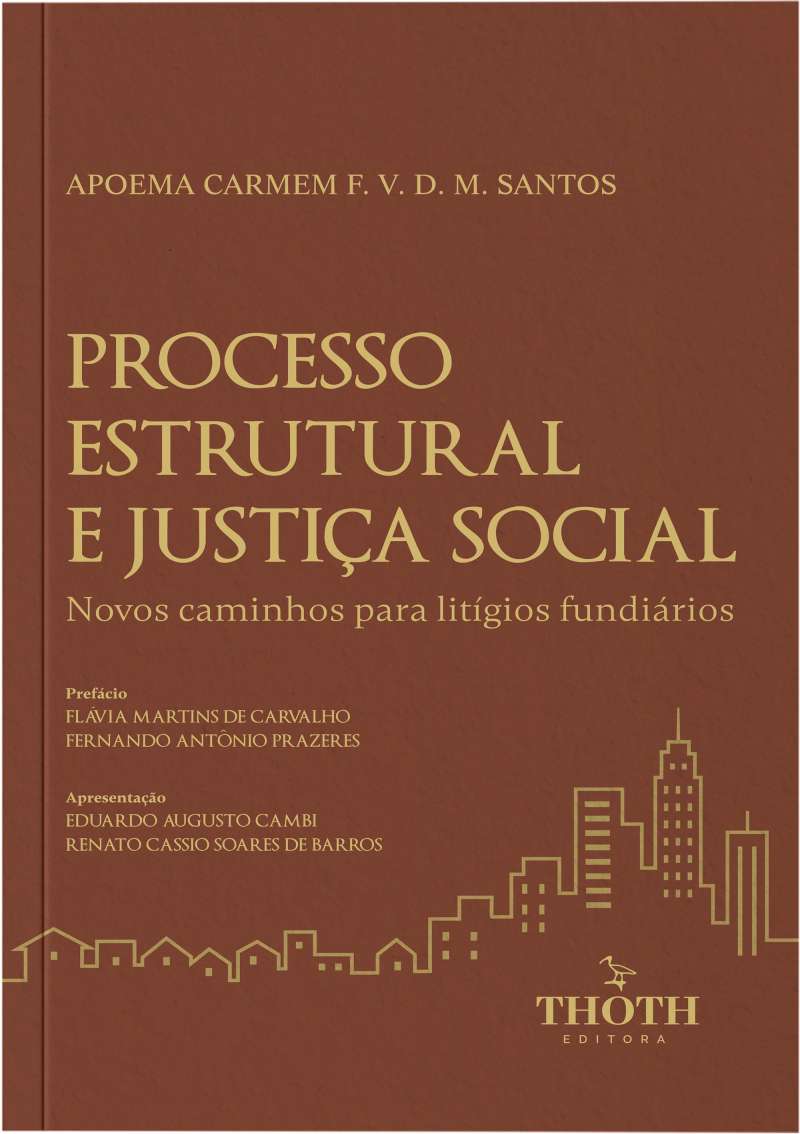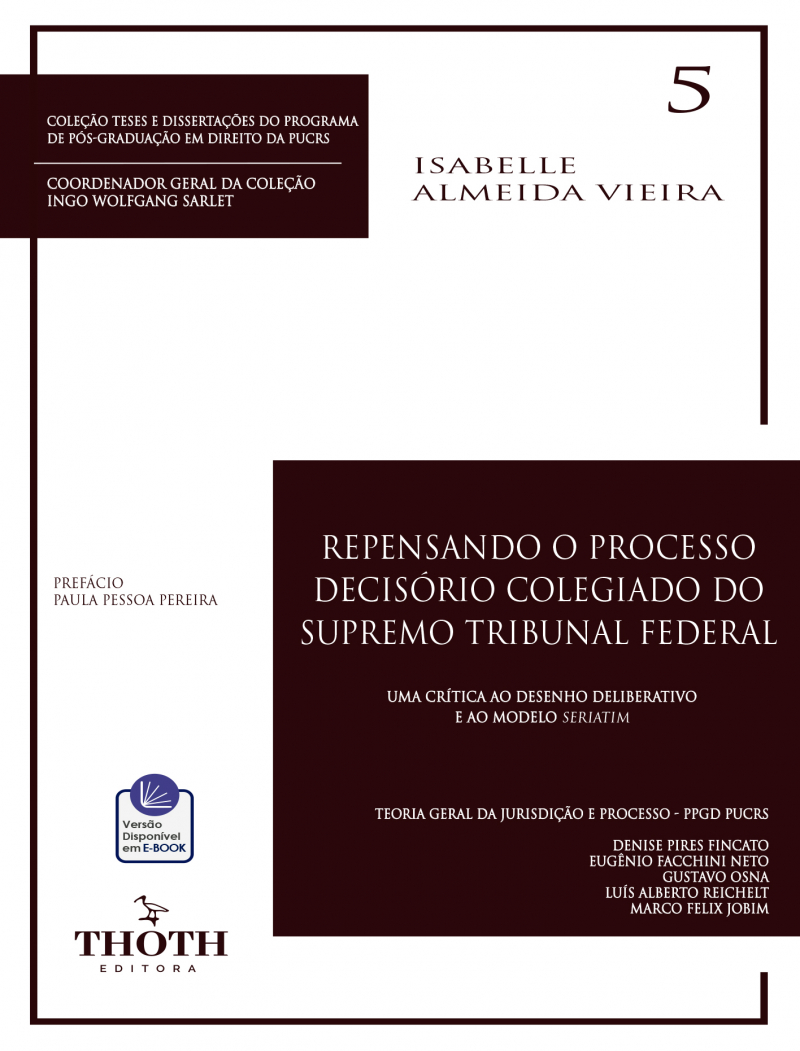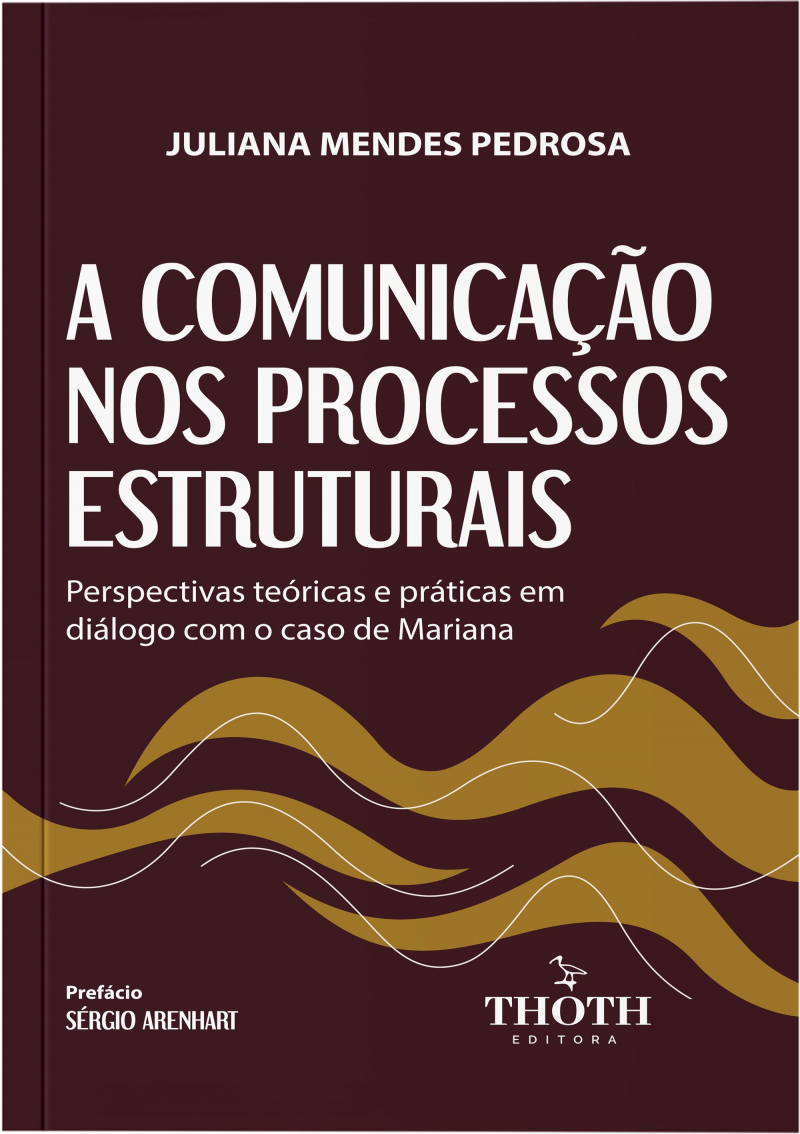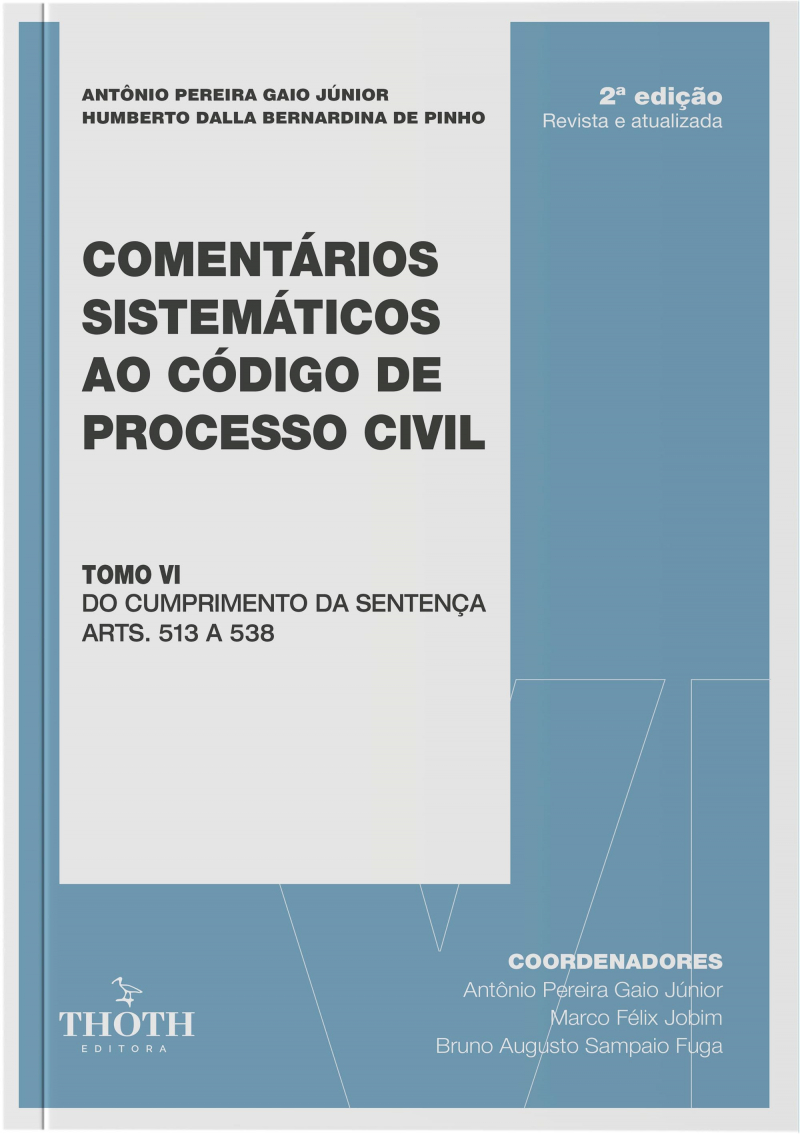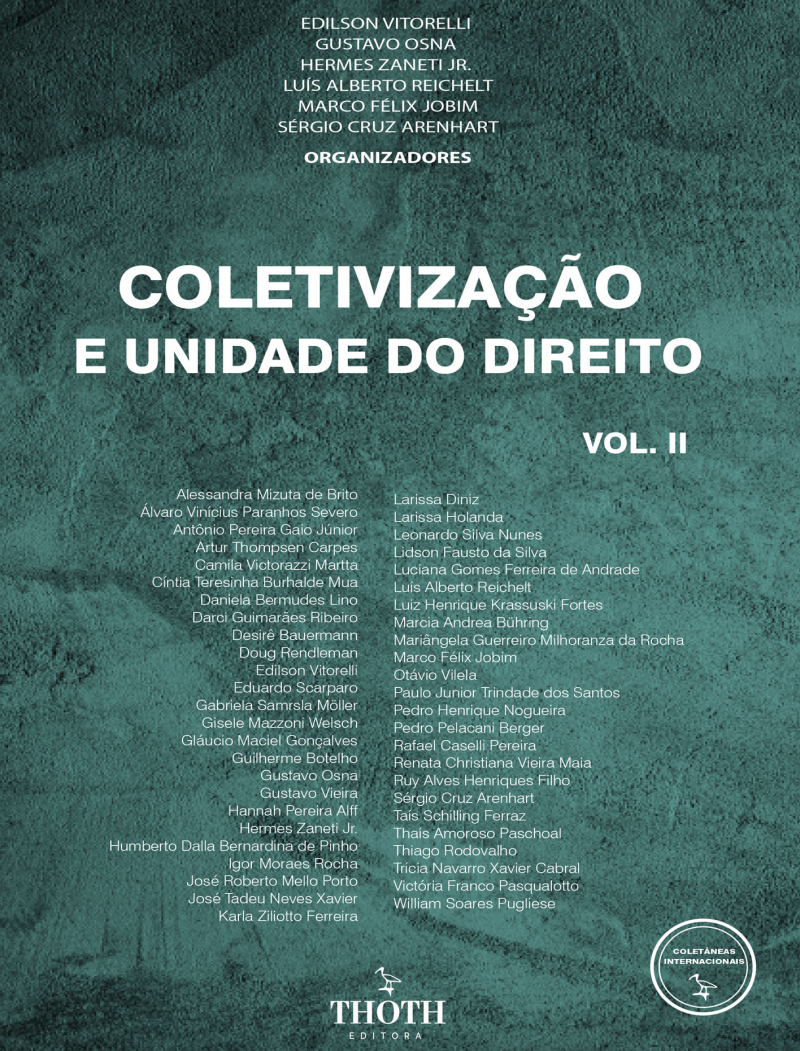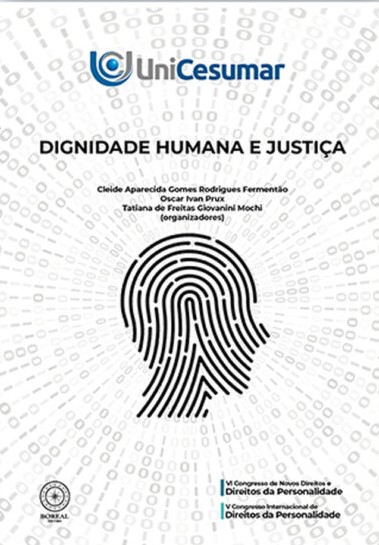ISBN: 978-65-5113-181-3
IDIOMA: Português
NÚMERO DE PÁGINAS: 457
NÚMERO DA EDIÇÃO: 1
DATA DE PUBLICAÇÃO: 25/06/2025
Nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2024, foram realizadas, pelo IBDP – Instituto Brasileiro de Direito Processual, as XV Jornadas Brasileiras de Direito Processual, na cidade de Curitiba/PR, quando ocorreram valiosos debates sobre a temática dos Precedentes com a participação de duas centenas de processualistas, brasileiros e estrangeiros, que se debruçaram sobre os assuntos em homenagem às contribuições inestimáveis de dois seus maiores pensadores brasileiros, o Professor Luiz Guilherme Marinoni e a Professora Teresa Arruda Alvim.Além das palestras realizadas ao longo de painéis simultâneos e temáticos, o IBDP convocou jovens estudiosos para concorrerem a dois Prêmios: o Prêmio Prof. Dr. Renê Ariel Dotti a ser concedido à melhor monografia de Direito Processual Penal e o Prêmio Prof. Dr. Egas Moniz de Aragão para a melhor monografia de Direito Processual Civil. Ambos foram Professores Titulares da Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde foi desenvolvida parte significativa das Jornadas, e profundos conhecedores de suas matérias com amplo envolvimento no papel da redemocratização do país. Deixaram como legados obras fundamentais para suas áreas de conhecimento, que não só marcaram época, mas também abriram novos horizontes para o pensamento e para o desenvolvimento de suas matérias, o que é sentido até os dias atuais
AUTORES
APRESENTAÇÃO
CAPÍTULO 1
Wenner Melo Prudêncio de Araújo
QUANDO UM PRECEDENTE CONVENCE
Introdução
1 Duas realidades interconectadas
1.1 A aproximação entre os sistemas common law e civil law
1.2 O Brasil aderindo a características do common law
1.3 A função dos precedentes
2 O Brasil e o excesso de formalismo em torno dos precedentes obrigatórios
2.1 O art. 927 do CPC e a busca por sentido
2.2 O que não é precedente
2.3 Precedentes vinculantes e litígios estruturais
3 A não adesão aos precedentes: quando os juízes decidem não seguir
3.1 Ratio decidendi mal formulada
3.2 Stare decisis que não vincula
3.3 Imposição versus persuasão
3.4 A influência cultural e o patrimonialismo no judiciário brasileiro
3.5 Por que não seguir precedentes?
4 Quando o precedente convence
4.1 Clareza e robustez da fundamentação jurídica
4.2 Qualidade argumentativa como fonte de persuasão
4.3 Efetividade na aplicação consistente e coerente
4.4 Conclusão do capítulo
Conclusão
Referências
CAPÍTULO 2
Taís Santos de Araújo
SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES E TUTELA DA CONFIANÇA: ANÁLISE DA MODULAÇÃO E DA SUPPRESSIO COMO FORMAS DE GARANTIR A SEGURANÇA JURÍDICA APÓS A SUPERAÇÃO
Introdução
1 A relação entre segurança jurídica, precedentes e tutela da confiança: conceitos fundamentais
2 Aspectos da modulação enquanto técnica de conformação da confiança na superação de um precedente
2.1 A necessidade de modulação dos efeitos prospectivos do novo precedente
2.2 Como os juízes podem atuar para garantir a efetividade da tutela da confiança nos casos de superação de precedentes
2.2.1 Casos em que não é efetivada a modulação pelo STF ou STJ após a superação do precedente
2.2.2 Casos em que a modulação realizada pelo STF ou STJ após a superação do precedente leva em consideração critério ilegítimo
3 A boa-fé processual como guia orientativo da conduta das partes quando ocorre a superação de um precedente
3.1 A boa-fé processual e inferências preliminares sobre a suppressio a partir do CPC de 2015 (art. 5º)
3.2 A suppressio como impeditivo para a alegação do novo precedente quando há legítima confiança depositada na orientação anterior
Conclusão
Bibliografia
CAPÍTULO 3
João Paulo Baeta Faria Damasceno
A MULTIPLICIDADE DE INCIDENTES DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS SOBRE MESMAS QUESTÕES: VIOLAÇÕES AO PACTO FEDERATIVO, À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA
Introdução
1 A multiplicidade de processamento de IRDRs sobre mesma questão
1.1 Considerações sobre as origens do incidente de resolução de demandas repetitivas
1.2 O incidente de resolução de demandas repetitivas e sua finalidade
1.3 A multiplicidade de IRDRs sobre mesma questão em tribunais distintos: hipótese de desvirtuamento do instituto
1.4 Fatores que possibilitam a multiplicidade de IRDRs sobre mesma questão
1.4.1 O incidente de resolução de demandas repetitivas e as questões de fato
1.5 Multiplicidade de IRDRs sobre mesma questão em tribunais de natureza diversa
2 Desdobramentos da multiplicidade de IRDRs sobre mesma questão
2.1 Desconfiguração do pacto federativo
2.1.1 Considerações sobre o pacto federativo brasileiro
2.1.2 Referência ao levantamento de dados sobre a natureza das matérias veiculadas por meio dos IRDRs
2.1.3 Supressão da competência privativa da União para legislar sobre matéria federal
2.2 A multiplicidade de IRDRs como vetor para promoção da violação à isonomia jurídica
2.2.1 A coexistência de teses jurídicas divergentes
2.2.2 A tese jurídica e a limitação de competência territorial
2.2.3 Ausência de participação no procedimento do IRDR: violação à isonomia pelo não direito de influência
2.3 A multiplicidade de IRDRs e a (in)segurança jurídica
2.3.1 Delimitação do campo de análise
2.3.2 Aspectos essenciais do instituto da segurança jurídica
2.3.3 A segurança jurídica para o legislador do CPC
2.3.4 Estruturas elementares da segurança jurídica e a incompatibilidade com a multiplicidade de IRDRs
2.3.5 A impossibilidade de cálculo da segurança jurídica com as partes ausentes e não representadas
2.4 Efeitos práticos da multiplicidade de incidentes em tribunais diversos
2.4.1 Vulnerabilidade dos litigantes eventuais face à atuação estratégica dos grandes litigantes
3 O contexto da política processual e as possíveis correções de percurso
3.1 A tutela coletiva como instrumento para equilibrar eficiência processual e garantias constitucionais
3.2 Da incompetência dos tribunais de alçada para formação de precedentes: alternativas pela análise das capacidades institucionais
3.2.1 Arranjos institucionais para tratamento das questões federais no IRDR
3.2.2 A necessária transmutação do julgamento de IRDRs múltiplos para o STJ
3.3 Críticas sobre as soluções apresentadas
Conclusão
Referências
CAPÍTULO 4
Maiurá Duro Schneider
A MANIPULAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL NA OPERAÇÃO LAVA-JATO: A IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAR OU RATIFICAR ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS EM CONTEXTOS DE BYPASS AO INQ Nº 4.435-AGR-QUARTO/DF
Introdução
1 A zona de penumbra entre a Justiça Comum e a Justiça Eleitoral
1.1 Jurisprudência do STF até o INQ nº 4.435-AgR-Quarto/DF
1.2 O INQ nº 4.435-AgR-Quarto/DF: pacificação da controvérsia
1.3 A Operação Lava-Jato e o bypass ao INQ nº 4.435-AgR-Quarto/DF
2 Efeitos jurídicos da incompetência no processo penal: nulidade ou convalidação
2.1 A irradiação da incompetência no direito processual penal
2.1.1 Panorama normativo da incompetência no processo penal
2.1.2 Teorias sobre os efeitos jurídicos da incompetência
2.2 A controversa convalidação ou ratificação dos atos decisórios
2.2.1 O que é
2.2.2 Base normativa
2.2.3 A convalidação/ratificação na jurisprudência do STF
3 A impossibilidade de convalidar ou ratificar atos decisórios prolatados em contextos de bypass ao INQ nº 4.435-AgR-Quarto/DF
3.1 Conceito de ato decisório no processo penal: manipulação semântica do art. 567 do CPP
3.2 Fundamentos da impossibilidade de convalidar ou ratificar atos nesse contexto
3.2.1 Insegurança jurídica
3.2.2 Cerceamento de garantias
3.2.3 Impossibilidade de beneficiar atos de má-fé processual
3.2.4 Impossibilidade de sanar atos absolutamente nulos
3.3 Jurisprudência da Segunda Turma do STF: análise de dois casos
3.3.1 RCL nº 32.081/PR
3.3.2 HC nº 214.214/DF
Conclusão
Referências
CAPÍTULO 5
Maynara Silva Cerqueira
AS IMPLICAÇÕES DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL NO PROCESSO PENAL
Introdução
1 Notas sobre a teoria geral das provas no processo penal
1.1 Princípios constitucionais aplicáveis à prova no processo penal
1.2 Momentos de produção da prova
1.3 Fontes e meios de prova
2 Das provas correlacionadas ao tema
2.1 Prova documental
2.2 Corpo de delito e prova pericial
2.3 Provas digitais
2.3.1 Conceito
2.3.2 Características
3 Da cadeia de custódia
3.1 Histórico da cadeia de custódia no Brasil
3.2 Cadeia de custódia em países latino-americanos
3.3 O regime da cadeia de custódia na Lei nº 13.964/2019
3.4 Cadeia de custódia dos vestígios digitais
4 Notas gerais sobre nulidades no processo penal
4.1 Nulidades absoluta e relativa
4.2 Nulidade da prova ilícita
5 Implicações da quebra da cadeia de custódia da prova no processo penal brasileiro
5.1 Julgamento do Habeas Corpus nº 653.515 – RJ pelo STJ
5.2 Julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 143.169 – RJ
5.3 Outras implicações da quebra da cadeia de custódia da prova digital
Conclusão
Referências
CAPÍTULO 6
José Pedro Werner Forneck
A ATUAÇÃO EX OFFICIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS INVESTIGAÇÕES DE CRIMES CONTRA A ORDEM DEMOCRÁTICA
Introdução
1 Evolução histórica do processo penal – sistemas inquisitório, acusatório e misto
1.1 O sistema acusatório
1.1.1 Contexto histórico
1.1.1.1 Grécia Antiga
1.1.1.2 Roma
1.1.2 Contexto atual
1.2 O sistema inquisitório
1.3 O sistema misto
1.4 Estrutura processual penal brasileira
1.4.1 Código de Processo Penal de 1941
1.4.2 Mudanças pós-constituinte
1.4.3 Lei nº 13.964/19
2 O inquérito 4781 do STF
2.1 Entendendo a atuação de ofício
2.1.1 Artigo 5º, II, do CPP e o requerimento de abertura de inquérito pelo juiz
2.2 Inconstitucionalidade do artigo 43 do Regimento Interno do STF
2.2.1 Conceito de “dependências do Tribunal”
2.3 Competência sobre investigados não sujeitos à jurisdição do STF
2.4 Inércia do Procurador-Geral da República e a atuação de ofício
2.5 Atuação do Ministro-Relator
2.5.1 Prisão preventiva
2.5.2 Sequestro de bens e busca e apreensão
2.5.3 Interceptação telefônica
2.5.4 Colaboração premiada
Conclusão
Referências